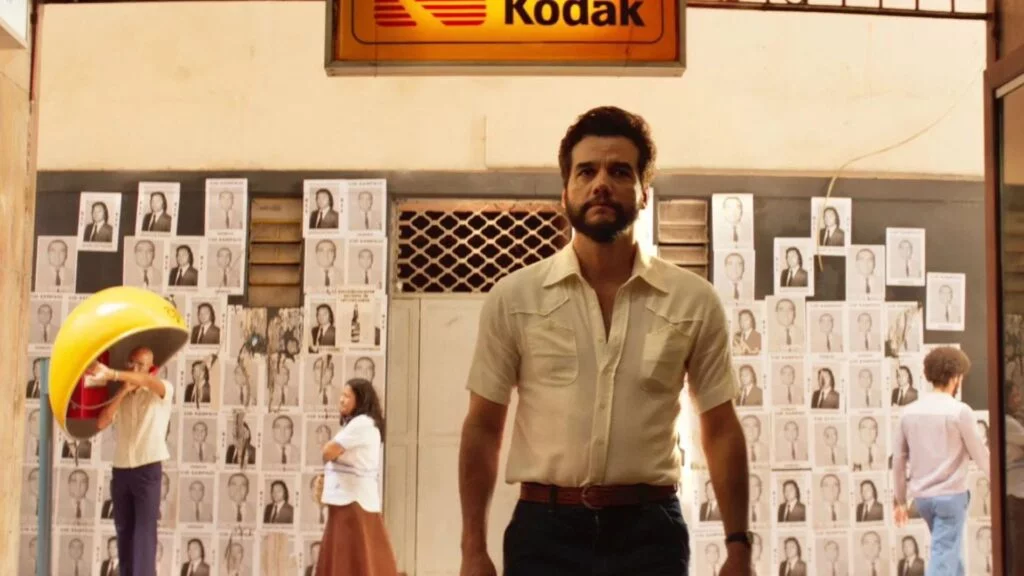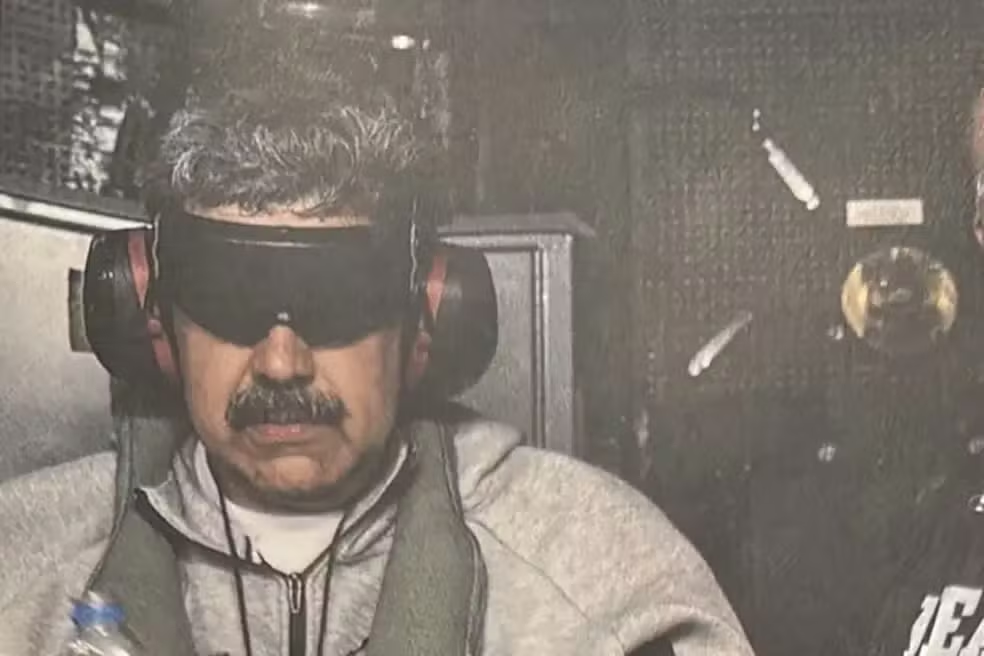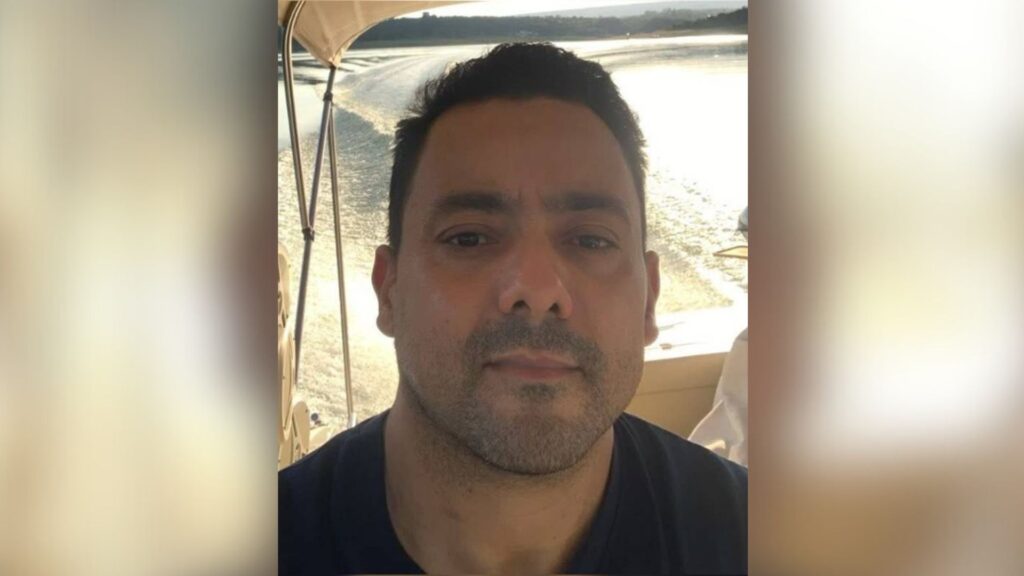A participação intensa de movimentos sociais na COP30 reforçou a pressão por pautas que ganham espaço na Agenda de Ação, especialmente o acesso direto ao financiamento climático. Desde o anúncio do Brasil como sede da conferência, povos indígenas, ribeirinhos, afrodescendentes e demais comunidades tradicionais cobram representatividade nas negociações. Esses grupos formalizaram documentos e promoveram manifestações, incluindo a única tentativa de romper o bloqueio de segurança da ONU em Belém.
A vice-presidente sênior da Conservation International na América do Sul, Raquel Biderman, avalia que os recursos destinados à proteção da natureza continuam escassos e chegam ainda menos às populações que preservam ecossistemas essenciais para estocar carbono — apesar de 30% das soluções climáticas dependerem diretamente desses ambientes. Como o aquecimento global resulta do excesso de carbono provocado por atividades humanas, Raquel destaca que os estoques mantidos por esses povos têm papel crucial para conter o avanço da crise climática.
O esforço global busca limitar o aquecimento a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais, uma barreira que, se superada, pode desencadear mudanças irreversíveis e multiplicar eventos extremos. Para Raquel, a frustração das populações tradicionais reflete a baixa destinação de recursos. “A natureza recebe só 3% das finanças climáticas, e esses povos ficam com 1% desse total”, ressalta. Ela afirma que as marchas e protestos dentro da COP mostram a defesa por acesso direto aos recursos, sem intermediários, para garantir a continuidade da vida nas florestas.
O Brasil reúne 1,7 milhão de indígenas, segundo o Censo de 2022, e a Amazônia abriga 511 povos, sendo 391 no território brasileiro. Essa população mantém relação histórica de manejo sustentável, conservação e equilíbrio dos ecossistemas, com impacto direto na retenção de carbono. Raquel observa que modelos de remuneração já existem, funcionam e abrangem ecoturismo, manejo agroflorestal e produção sustentável, incluindo as roças tradicionais. Segundo ela, essas práticas sustentam a cultura dessas populações e, simultaneamente, beneficiam o planeta.
O debate sobre financiamento ganhou força na COP30. Iniciativas como o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF) surgiram para ampliar o repasse direto às comunidades. Mesmo assim, o volume de recursos não cobre o necessário. Raquel cita estimativa do Banco Mundial, segundo a qual a Amazônia precisaria de US$ 7 bilhões anuais para garantir sua conservação como grande estoque de carbono. Hoje, a região recebe apenas US$ 600 milhões.
“A lacuna é enorme e demanda atenção urgente”, afirma.
Ela aponta que políticas públicas voltadas a povos tradicionais avançaram em diferentes períodos, mas oscilaram conforme mudanças políticas, o que impediu regularidade nos investimentos. Raquel reconhece um movimento atual de diversificação das fontes de financiamento, que mistura instrumentos antigos — como conversão de dívida por natureza e fundos de conservação — com frentes mais recentes, como o mercado de carbono e negócios baseados na natureza. Ela destaca, contudo, que essas soluções exigem vigilância social e contratos atentos à diversidade cultural amazônica.
A especialista alerta para a urgência do tema, principalmente pela presença de economias ilegais que exploram a floresta e ampliam riscos para essas populações.
“Precisamos oferecer alternativas econômicas para impedir que jovens sejam atraídos pelo crime”, afirma.
O acesso direto ao financiamento, para ela, pode fortalecer a bioeconomia e garantir renda sem romper laços com o território. Raquel lembra que mais de cem cadeias produtivas da Amazônia poderiam gerar sustento se recebessem investimento adequado.
“Esses recursos manteriam modos de vida tradicionais e reduziriam a vulnerabilidade ao aliciamento criminoso”, conclui.