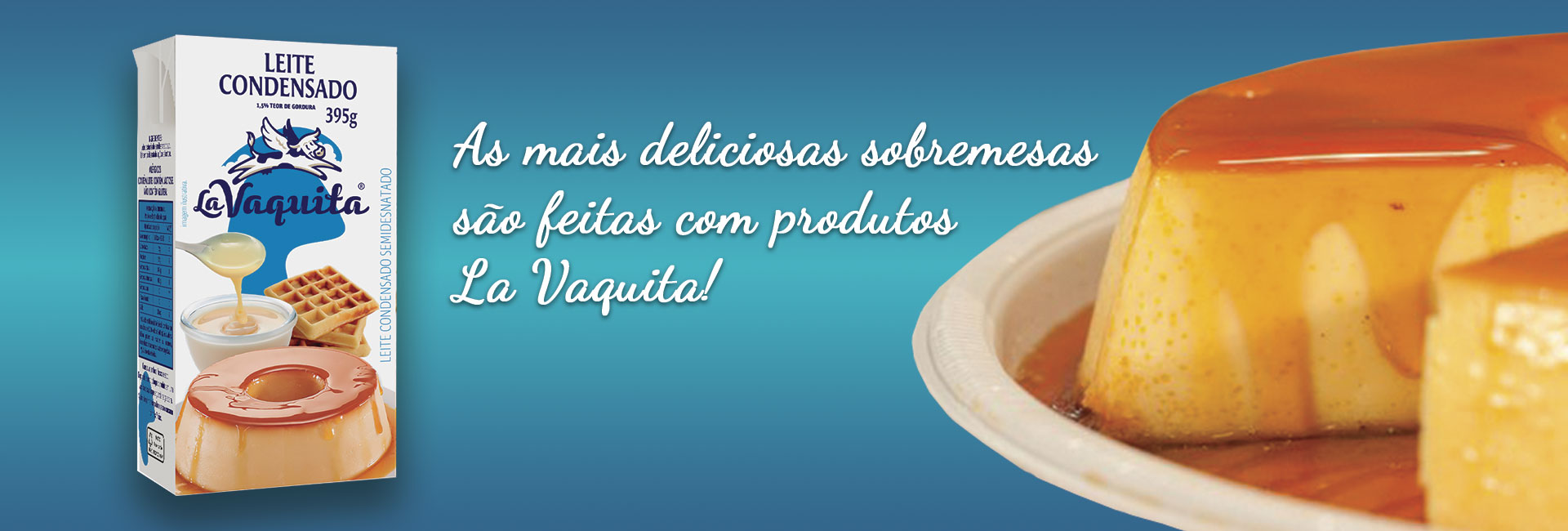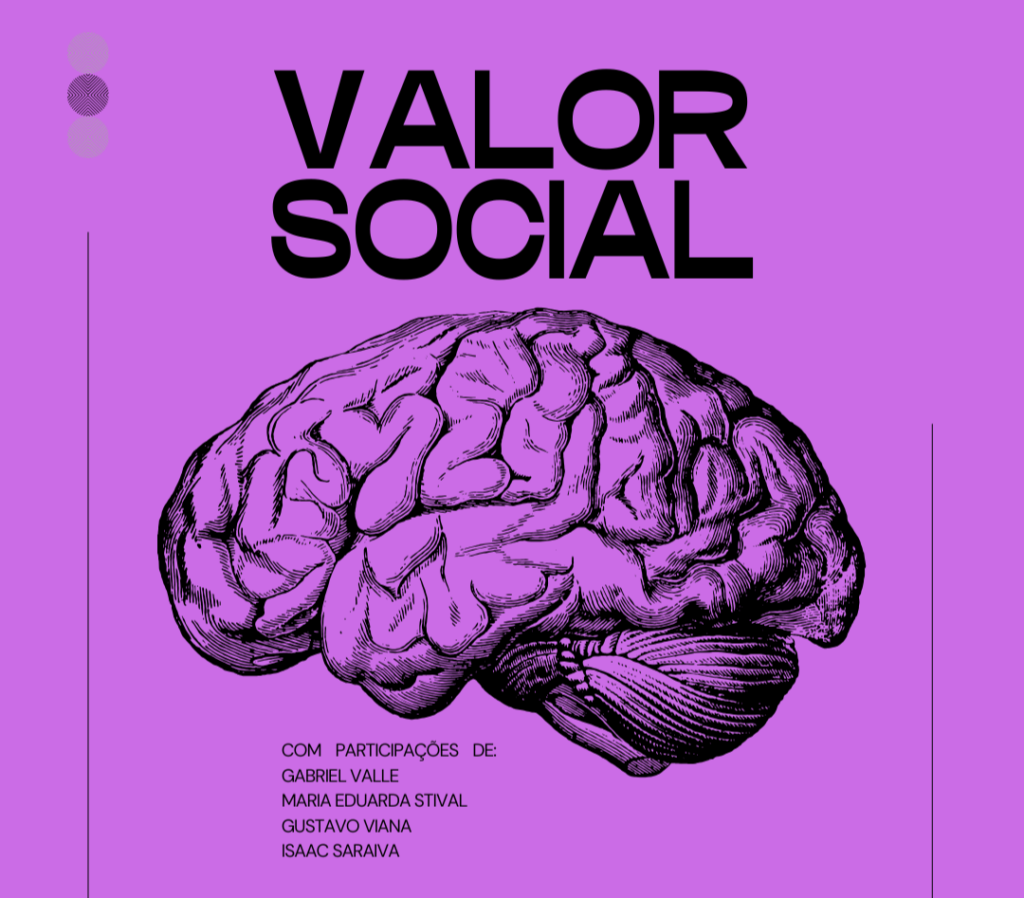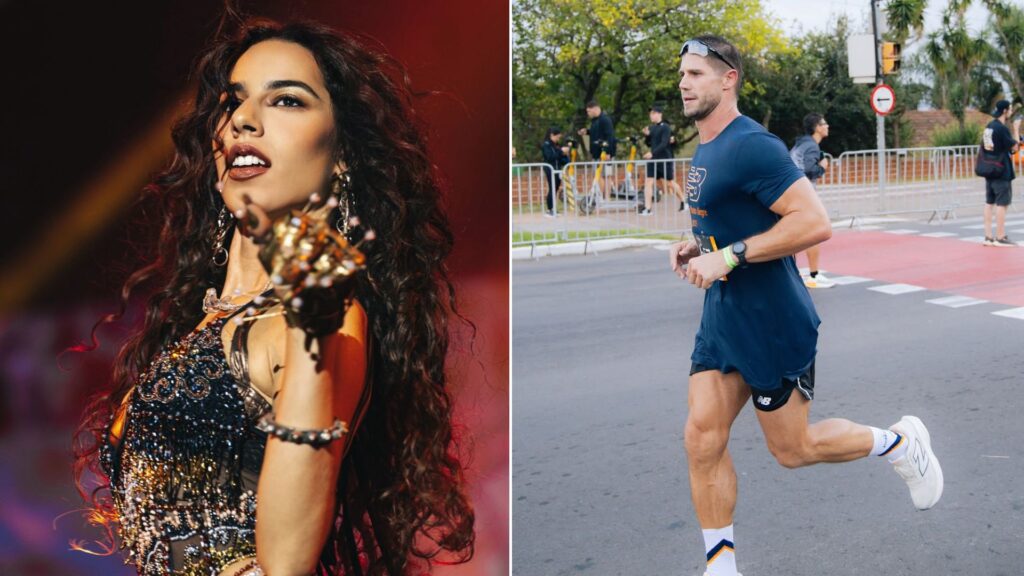A relação entre o eleitor e a política no Brasil nunca foi simples. A pesquisa recente sobre Goiás, que mostra baixo interesse e indefinição de voto a menos de um ano das eleições, confirma uma continuidade histórica. A apatia aparente não é apenas circunstancial. Ela expressa um modo de comportamento político construído ao longo de séculos.
A cultura brasileira, como observou Gilberto Freyre, nasceu sob o domínio da casa, do favor e da lealdade pessoal. O poder não se exercia por meio de instituições abstratas, mas de relações concretas e familiares. O cidadão se via antes como súdito de alguém do que como integrante de uma ordem impessoal. Sérgio Buarque de Holanda, ao descrever o “homem cordial”, apontou justamente essa dificuldade de separar o público do privado. A cordialidade não era gentileza, mas a tendência de levar os sentimentos pessoais à vida pública.
Essas interpretações ajudam a compreender por que o eleitor brasileiro se mobiliza mais por vínculos de confiança do que por programas partidários. Em Goiás, essa herança é nítida. A política local ainda se organiza em torno de figuras, não de ideias. Quando o eleitor hesita, não é porque desconhece a política, mas porque não reconhece nela o mesmo tipo de relação de confiança que moldou sua experiência social.
Entre o Estado e o cidadão: a desconfiança persistente
A dificuldade de transformar a confiança pessoal em confiança institucional explica parte do desinteresse atual. Oliveira Vianna observava que o Brasil construiu uma democracia formal sobre uma base social de baixa organização cívica. A sociedade brasileira, segundo ele, é passiva diante do Estado, e esse Estado tende a ser centralizador e paternalista.
Raymundo Faoro ampliou essa leitura ao afirmar que o poder no Brasil é controlado por um estamento burocrático que sobrevive a qualquer mudança de regime. O eleitor percebe essa permanência. Ele entende que, apesar das alternâncias partidárias, a estrutura do poder continua praticamente intocada. Essa percepção alimenta o ceticismo político e contribui para o comportamento prudente e tardio na hora de decidir o voto.
Nestor Duarte, em A Ordem Privada e a Organização Política Nacional, descreveu como essa herança familiar e personalista impregnou o próprio funcionamento do Estado. A política, em vez de um espaço público de debate, tornou-se extensão das relações privadas. Daí o distanciamento. Quando o eleitor goiano se declara indeciso ou pouco interessado, ele não manifesta ignorância, mas uma compreensão empírica de que sua escolha pouco altera a estrutura de poder.
A racionalidade adaptativa do eleitor
À primeira vista, esse comportamento poderia ser lido como apatia. No entanto, a ciência política contemporânea oferece outra interpretação. Anthony Downs e a teoria da escolha racional mostram que o eleitor decide quando os benefícios de decidir superam os custos de se informar. Em um contexto no qual os nomes para 2026 ainda são incertos e as alianças instáveis, o eleitor racionalmente adia sua decisão. Ele espera acumular mais informação para reduzir o risco de arrependimento.
Essa racionalidade limitada, descrita por Herbert Simon, é reforçada pelas condições do ambiente informacional. O excesso de notícias, o ruído das redes sociais e a baixa credibilidade dos meios tradicionais fazem com que o cidadão filtre o que consome. Ele se protege da saturação, evita o engajamento precoce e reserva sua atenção para o momento em que a disputa se torne concreta.
O eleitor goiano, ao agir dessa forma, não demonstra alienação, mas prudência. Em um sistema político marcado por promessas repetidas e resultados escassos, a espera se converte em forma de autoproteção. É uma racionalidade adaptativa, na qual o cidadão age com cautela diante da incerteza.
Desinteresse e rejeição como sintomas da cultura política
O aparente desinteresse político é, na verdade, resultado de uma tradição de desconfiança. José Murilo de Carvalho mostrou que o Brasil produziu direitos sem ter formado plenamente uma consciência cívica. O voto tornou-se um dever formal, mas a crença na eficácia da representação continua frágil. O cidadão cumpre o ritual democrático, porém sem convicção de que sua escolha altere a ordem das coisas.
Essa descrença alimenta a rejeição. Boa parte dos eleitores define primeiro quem não quer eleger, antes de pensar em quem apoiará. É a política da negação, o voto como defesa. Esse comportamento é coerente com a análise de Roberto DaMatta sobre a dualidade entre o mundo da casa e o da rua. O cidadão se engaja quando sente que há algo seu em jogo, mas desconfia do espaço público, que lhe parece dominado por forças anônimas e hostis.
A rejeição, portanto, é um produto da experiência histórica. O eleitor brasileiro é cético porque conhece a política brasileira. Ele aprendeu, pela repetição, que a distância entre promessa e realidade costuma ser grande. Assim, seu voto não é expressão de fé, mas de cautela. Ele vota não para escolher o melhor, mas para evitar o pior.
A prudência como virtude política
O liberalismo conservador reconhece na prudência uma virtude superior. Edmund Burke via nela o equilíbrio entre a necessidade de mudança e a preservação da ordem. No caso brasileiro, a prudência do eleitor é um sinal de maturidade. O cidadão sabe que a política é volátil, que lideranças surgem e desaparecem, e que o custo de acreditar cegamente é alto. Sua indecisão não é despolitização, mas sabedoria adquirida pela experiência.
O comportamento do eleitor goiano confirma essa leitura. Ele observa, compara e espera. Avalia a gestão estadual, acompanha o desempenho dos serviços públicos e mede o impacto das lideranças locais. Mas só decide quando a conjuntura lhe parece segura. A política, para ele, é terreno instável, e a decisão de voto é uma forma de sobrevivência simbólica.
Essa prudência individual é também consequência de uma sociedade que ainda vive entre o público e o privado, entre o afeto e a norma, entre a casa e a rua. Como apontaram Freyre, Holanda, Vianna, Faoro e DaMatta, o Brasil moderno ainda não superou as marcas de sua formação tradicional. A democracia existe, mas opera dentro de uma cultura em que a confiança pessoal pesa mais do que a credibilidade institucional.
Conclusão: o eleitor em suspenso
O cenário de Goiás em 2026 sintetiza o dilema brasileiro. Há liberdade de escolha, mas pouca crença na eficácia da escolha. Há abundância de informação, mas escassez de confiança. Há interesse potencial, mas adiamento da decisão. O eleitor está em suspensão.
Esse estado de suspensão não é uma patologia. É uma estratégia de autopreservação de uma sociedade que conhece seus limites e duvida das promessas fáceis. A política brasileira continuará sendo, por muito tempo, um campo onde convivem a razão e a tradição, a prudência e a esperança. Compreender isso é reconhecer que o eleitor não é apático nem irracional. Ele é herdeiro de uma história longa, e sua espera é uma forma de sabedoria.